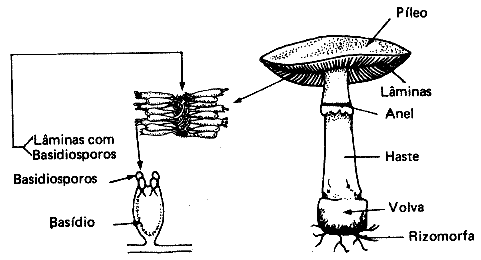1. INTRODUÇÃO
Fungos são organismos eucariontes, aclorofilados, heterotróficos, que se reproduzem sexuada e assexuadamente e cujas estruturas somáticas são geralmente filamentosas e ramificadas, com parede celular contendo celulose ou quitina, ou ambos.
Os fungos obtêm o alimento seja como saprófitas, organismos que vivem sobre a matéria orgânica morta, ou como parasitas, que se nutrem da matéria viva. Em ambos os casos, as substâncias nutritivas são ingeridas por absorção após terem sido parcialmente digeridas por meio de enzimas.
A maioria dos fungos é constituída de espécies saprófitas que desempenham a importante função de decomposição na biosfera, degradando produtos orgânicos e devolvendo carbono, nitrogênio e outros componentes ao solo, tornando assim disponíveis às plantas. Cerca de 100 espécies de fungos produzem doenças no homem e quase o mesmo número em animais, a maioria das quais são enfermidades superficiais da pele ou de seus apêndices. No entanto, mais de 8.000 espécies de fungos causam doenças em plantas, sendo que todas as plantas são atacadas por algum tipo de fungo, e cada um dos fungos parasitas atacam a um ou mais tipos de plantas.
2. CRESCIMENTO DOS FUNGOS
O crescimento dos fungos é constituído das fases vegetativa e reprodutiva.
2.1. Fase Vegetativa
Os fungos, em sua maioria, são constituídos de filamentos microscópicos com parede celular bem definida, chamados hifas. A célula fúngica é constituída pelos principais componentes encontrados nos organismos eucariotos. A parede celular é composta principalmente por polissacarídios, pequena quantidade de lipídios e íons orgânicos. A membrana plasmática é composta por fosfolipídios e esfingolipídios, proteínas, além de pequenas quantidades de carboidratos. O citoplasma apresenta solutos dissolvidos, no qual estão imersas organelas membranosas, como mitocôndrias, complexo de Golgi e microcorpos, assim como estruturas não membranosas, como ribossomos, microtubos e microfilamentos. A célula fúngica apresenta núcleos dotados de uma membrana nuclear ou carioteca.
 |
| Fonte:Google |
Os fungos, por serem aclorofilados, não podem utilizar energia solar para sintetizar seu próprio alimento. A substância de onde os fungos retiram os nutrientes de que necessitam chama-se substrato, o qual pode ser o húmus do solo, restos de cultura, plantas vivas, etc. As hifas ramificam-se em todas as direções no substrato, formando o micélio.
As hifas ou micélio, quanto ao número de núcleos, podem ser uninucleadas, binucleadas e multinucleadas. A extremidade da hifa é a região de crescimento. O protoplasma na extremidade da hifa sintetiza um grande número de enzimas e ácidos orgânicos que são difundidos no substrato. As enzimas e ácidos quebram a celulose, amido, açúcares, proteínas, gorduras e outros constituintes do substrato, que são utilizados como alimentos e energia para o crescimento do fungo.
O crescimento do micélio de um fungo parasita pode ser externo ou interno em relação ao tecido hospedeiro. O micélio externo ocorre como um denso emaranhado na superfície de folhas, caules ou frutos, que não penetra na epiderme dos órgãos e nutre-se através de exsudatos (açúcares) da planta. O micélio interno pode ser subepidérmico, quando desenvolve entre a cutícula e as células epidermais; intercelular, quando penetra no hospedeiro e localiza-se nos espaços intercelulares, sem penetrar nas células, sendo os nutrientes absorvidos através de órgãos especiais chamados haustórios (estruturas constituídas de células da hifa) ou diretamente por difusão através da parede celular; ou intracelular, quando penetra dentro da célula hospedeira, absorvendo os nutrientes diretamente. Existem espécies que tem capacidade de penetrar diretamente pela superfície intacta do hospedeiro. Estas espécies apresentam órgãos especiais, chamados apressórios, que se fixam na superfície do hospedeiro e no ponto de contato ocorre à dissolução do tecido formando um pequeno orifício (microscópico).
No processo de desenvolvimento os fungos formam estruturas vegetativas que funcionam como estruturas de resistência, tais como:
• Rizomorfas: estruturas macroscópicas formadas por hifas entrelaçadas no sentido longitudinal, com crescimento semelhante a uma raiz.
• Esclerócios: estruturas macroscópicas formados pelo enovelamento de hifas com endurecimento do córtex.
• Clamidosporos: estruturas microscópicas, formadas pela diferenciação de células da hifa, com a formação de uma parede espessa.
Todas essas estruturas permanecem em repouso quando as condições são desfavoráveis, entrando em atividade em condições favoráveis.
2.2. Fase Reprodutiva
Os esporos são as estruturas reprodutivas dos fungos, constituindo a unidade propagativa da espécie, cuja função é semelhante a de uma semente, mas difere desta pois não contém um embrião pré-formado.
Os esporos são produzidos em ramificações especializadas ou tecidos do talo ou hifa chamados esporóforos. Estes, por sua vez, recebem denominações de acordo com a classe do organismo. Como exemplo temos: conidióforo nos Deuteromicetos e esporangióforo nos Oomicetos.
O corpo de frutificação de um fungo, como peritécios, apotécios e picnídios, dão proteção e apoio às células esporógenas, as quais podem ser agregadas em camadas dentro da cavidade do corpo de frutificação ou em camadas na epiderme do hospedeiro (Ex.: acérvulos). Nos Ascomicetos as células esporógenas compreendem as ascas, enquanto nos Basidiomicetos as basídias.
Os esporos são comumente unicelulares, mas em muitas espécies podem ser divididos por septos, formando células. Os esporos podem ser móveis (zoosporos) ou imóveis, de paredes espessas ou finas, hialinas ou coloridas, com parede celular lisa ou ornamentada, as vezes com apêndice filiforme simples ou ramificado. Em muitas espécies de fungos, a coloração e o número de septos dos esporos variam com a idade.
Os esporos podem ser assexuais e sexuais. A fase associada com os esporos assexuais e micélio estéril é conhecida como estágio ou fase imperfeita do fungo, enquanto aquela associada com a produção de zigoto e chamada estágio ou fase perfeita.
Os esporos assexuais são representados por zoosporos, conidiosporos, uredosporos e outros, formados pelas transformações do sistema vegetativo sem haver fusão de núcleos. Os esporos sexuais são resultantes da união de núcleos compatíveis, seguido de meiose e mitose.
Os órgãos sexuais do fungo são chamados de gametângios. O gametângio feminino é denominado oogônio ou ascogônio, enquanto o gametângio masculino é denominado anterídio . As células sexuais ou núcleos que se fundem na reprodução sexual são chamados gametas.
Algumas espécies de fungos produzem os gametângios no mesmo talo e são ditos homotálicos (hermafroditas). Outras formam talos com sexos agregados e são chamados heterotálicos (dióicos), isto é, os sexos são agregados em dois indivíduos diferentes, não podendo cada talo, ou seja, cada indivíduo reproduzir-se sexualmente sem o concurso de outro.
A maioria dos fungos é eucárpico, ou seja, apenas parte do talo transforma-se na estrutura reprodutiva. Nos fungos mais inferiores, em algumas espécies, todo talo transforma-se na estrutura reprodutiva, sendo chamadas holocárpicas.
Os fungos podem apresentar reprodução assexuada, sexuada e também um mecanismo de recombinação gênica, denominado parassexualidade.
• Reprodução assexuada: muito comum nos fungos, pode ocorrer pela fragmentação do micélio (cada fragmento origina novo organismo) ou pela produção de esporos assexuais. Neste tipo de reprodução não ocorre fusão de núcleos, somente ocorrendo mitoses sucessivas.
• Reprodução sexuada: ocorre entre dois esporos móveis ou não, em que três processos se sucedem:
a) Plasmogamia: fusão dos protoplasmas, resultante da anastomose de duas células.
b) Cariogamia: fusão de dois núcleos haplóides (N) e compatíveis, formando um núcleo diplóide (2N).
c) Meiose: onde o núcleo diplóide (2N) sofre uma divisão reducional para formar dois núcleos haplóides (N), seguindo-se a mitose, embora em alguns casos esta preceda a meiose. O núcleo haplóide forma então uma parede que o protege, recebendo o nome de esporo.
• Parassexualidade: ocorrência de plasmogamia entre duas hifas geneticamente diferentes, formando um heterocarion, ou seja, presença de dois núcleos geneticamente diferentes na mesma célula. Esta situação de heterocariose termina quando ocorre a união destes núcleos originando uma célula ou hifa diplóide, a qual se perpetua por mitose.
Os vários processos podem ocorrer simultaneamente no mesmo talo, sem obedecer uma seqüência regular ou em estágios específicos. O ciclo parassexual pode ou não ser acompanhado de um ciclo sexual. A parassexualidade constitui um importante mecanismo de variação genética para aqueles fungos que não apresentam reprodução sexual ou a apresentam raramente.
Embora os ciclos de vida dos fungos dos distintos grupos variem amplamente, a grande maioria passa por uma série de etapas que são bastante similares. Assim, a maioria dos fungos tem um estágio de esporo que contém um núcleo haplóide, que possui uma série de cromossomos ou 1N. Os esporos, ao germinar, produzem uma hifa que também contém núcleos haplóides. A hifa produz novamente esporos haplóides (como sempre ocorre com Deuteromicetos) ou pode fundir-se com uma hifa para produzir uma hifa fecunda em que os núcleos se fundem para formar um núcleo diplóide, denominado zigoto, que contém duas séries de cromossomos ou 2N. Nos Oomicetos, o zigoto se divide e produz esporos haplóides, que concluem o ciclo. Em uma fase breve do ciclo de vida da maioria dos Ascomicetos e em todos os Basidiomicetos, o par de núcleos da hifa fecundada não se une, mantendo-se separados dentro da célula (condição dicariótica ou N+N), dividindo-se simultaneamente para produzir mais células hifas que contêm pares de núcleos. Nos Ascomicetos, as hifas dicarióticas se localizam isoladas no interior de corpos de frutificação, onde originam hifas ascógenas, desde que os núcleos da célula da hifa se una para formar um zigoto (com um número diplóide de cromossomos), o qual se divide meioticamente para produzir ascósporos que contêm núcleos haplóides.
Nos Basidiomicetos, esporos haplóides produzem somente pequenas hifas haplóides. Quando estas são fecundadas, um micélio dicariótico (N+N) é produzido e desenvolve-se para constituir a estrutura somática do fungo. Essas hifas dicarióticas podem produzir, por via assexual, esporos dicarióticos que desenvolvem novamente em um micélio dicariótico. Entretanto, em qualquer dos casos, os núcleos pareados das células se unem e formam zigotos, dividindo-se meióticamente para produzir basidiósporos, que contém núcleos haplóides. Nos Deuteromicetos, é encontrado somente o ciclo assexual, com a seguinte seqüência: esporo haplóide → micélio haplóide → esporo haplóide.
O ciclo assexual é o mais comum entre os fungos, pois pode ser repetido várias vezes durante a estação de crescimento, enquanto o ciclo sexual ocorre somente uma vez por ano.
3. ECOLOGIA
A maioria dos fungos fitopatogênicos passa parte de seu ciclo de vida nas plantas que lhe servem de hospedeiro, e outra parte no solo ou em restos vegetais depositados sobre este substrato. Alguns fungos passam todo o seu ciclo de vida sobre o hospedeiro e somente seus esporos se depositam no solo, onde permanecem em dormência até que sejam levados a um hospedeiro no qual germinam e se reproduzem. Outros fungos devem passar parte de seu ciclo de vida como parasitas de seu hospedeiro e parte como saprófitas sobre os tecidos mortos depositados no solo. No entanto, este último grupo de fungos se mantém em estreita associação com os tecidos do hospedeiro, não se desenvolvendo em qualquer outro tipo de matéria orgânica. Um terceiro grupo de fungos vive como parasitas de seus hospedeiros, porém continuam vivendo, desenvolvendo-se e reproduzindo-se sobre os tecidos mortos deste hospedeiro, inclusive podem abandonar esses tecidos e depositarem-se no solo ou em outros órgãos vegetais em processo de decomposição, nos quais se desenvolvem e reproduzem como saprófitas estritos. É indispensável que os órgãos vegetais mortos nos quais se desenvolvam esses fungos não pertençam ao hospedeiro que tenham parasitado. Geralmente esses fungos são patógenos que habitam o solo, possuem uma ampla gama de hospedeiros e sobrevivem no solo durante vários anos na ausência de seus hospedeiros.
A sobrevivência e a atividade da maioria dos fungos fitopatogênicos depende das condições predominantes de temperatura e umidade, ou da presença de água em seu meio ambiente. Um micélio livre sobrevive somente dentro de uma certa amplitude de temperatura (entre -5 e 45oC). A maioria dos esporos resiste a intervalos bastante amplos de temperatura e umidade, embora necessitem de condições adequadas para germinar. Além disso, os fungos inferiores, que produzem zoosporos, necessitam de água livre para produção, movimento e germinação dessas estruturas reprodutivas. Os zoosporos são as únicas estruturas dos fungos que possuem movimento próprio, embora à distâncias muito curtas. A maioria dos fungos fitopatogênicos necessita de agentes como o vento, água, insetos, aves, outros animais e o homem para poder disseminar de uma planta a outra e inclusive a diferentes partes de uma mesma planta.
Os fungos fitopatogênicos podem penetrar no hospedeiro diretamente (a nível subcuticular, bem como a nível celular com haustório, micélio intercelular, micélio intercelular com haustório, ou apressório e micélio intracelular), por aberturas naturais (estômatos, lenticelas e hidatódios) ou por ferimentos (artificiais naturais pela rachadura de raízes, bem como através da ação do fungo, pela morte e maceração das células a frente do seu avanço).
Fonte:
http://ciencialivre.pro.br/media/bc354917a20b3bf4ffff83a2ffffd524.pdf